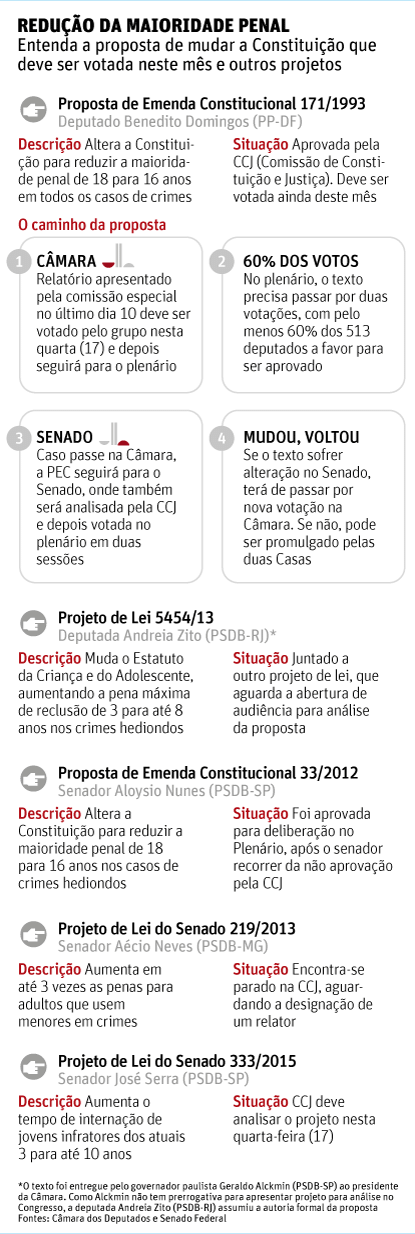Talvez se não
fossem tão míopes, nem andassem tão mal acompanhadas, e tão mal aconselhadas,
as forças de oposição ao Governo Federal tivessem, na verdade, agradecido ao
Supremo Tribunal Federal por suas recentes decisões com relação ao rito do
processo de impeachment.
É certo que
agora o mesmo se tornará mais lento, mais arriscado e muito mais trabalhoso
para quem quiser cassar o mandato da presidente. E não foi à toa que o Planalto
e seus aliados comemoraram as decisões relativas às regras para a formação da
comissão especial da Câmara, que pode ou não recomendar a abertura do processo
ao Plenário da Casa, e ao papel do Senado ainda nessa primeira fase de possível
afastamento provisório da Chefa do Poder Executivo. Afinal, além de reverter a
derrota inicial na eleição secreta para a comissão especial, e de aumentar o número
de oportunidades para uma eventual sustação e arquivamento do pedido acolhido
pela presidência da Câmara, a decisão do STF, em si, dá novo fôlego e mais
tempo a Dilma (mesmo diante da avaliação dúbia de que teria sido
estrategicamente melhor para ela suspender o recesso parlamentar e fazer o impeachment
tramitar mais imediatamente). Tempo que ao longo desse primeiro ano se tornou
um artigo tão escasso para o Governo quanto apoio e tranquilidade (e, também,
consequentemente, maior consistência e eficácia).
Mas o que foi
recebido como revés para a oposição, pode, no médio e longo prazo, se
constituir para esta uma importante vantagem. Pois em caso de sucesso final na
busca por seu objetivo – o impedimento de Dilma e a exclusão do PT do poder –,
a decisão do Supremo certamente pode dar a tal resultado, que já seria
suficientemente problemático em condições mais favoráveis que as atuais, ao
menos uma legitimidade maior do que se poderia aspirar se tivessem sido
mantidas (ou renovadas) as decisões suspeitas que, acreditaram alguns,
tornariam o impeachment favas contadas. Até segunda ordem, graças à interpretação
majoritária do STF, ninguém poderá dizer que no caso atual não se observou o
rito jurídico que presidiu o mesmo tipo de processo no caso de Fernando Collor,
nem que houve desrespeito a alguma das principais instâncias do sistema
republicano, ou que manobras espúrias teriam sido decisivas para definir o rumo
dos acontecimentos, conspurcando assim a por si só grave decisão de eventual
deposição legal de uma presidente legitimamente eleita.
Ou seja: se o impeachment
passar – atendendo, é claro, aos devidos requisitos legais – ele terá de ser
creditado exclusivamente a suas variáveis políticas, quer dizer: relativas ao
jogo partidário e às dinâmicas de interação entre o Executivo e o Legislativo,
e ao contexto específico de tomada de sua decisão (o que, obviamente, também não
exclui de modo algum a participação da tal da Sociedade Civil, o que quer que
se entenda por "opinião pública", e o movimento das ruas). Variáveis
tão essenciais e legítimas quanto a participação político-institucional do
Supremo no funcionamento do nosso presidencialismo.
Sem dúvida
que, mesmo após a intervenção da mais alta instância do Judiciário, não há garantia
alguma de que esse processo possa se encerrar rapidamente e sem traumas, seja
em que direção for, nem muito menos de que poderemos superar facilmente as
sequelas institucionais que inevitavelmente serão deixadas por ele. Ainda mais
com base no relativamente frágil pretexto jurídico alegado. E é claro que ainda
há muito tempo disponível para todo o tipo de manobras, chicanas, bravatas e
profecias apressadas, do gênero que vimos e ouvimos a torto e a direito em
2015.
Mas já que
resolveu se jogar nessa aventura, e testar os limites das nossas instituições
democráticas, a oposição agora, mesmo que aparentemente contrariada, pode
tentar trilhar um caminho talvez mais longo, e talvez com mais obstáculos, mas
certamente mais seguro e um pouco mais distante daquele abismo a que me referi aqui outro dia: o abismo da deslegitimação institucional e da instabilidade
política recorrente.